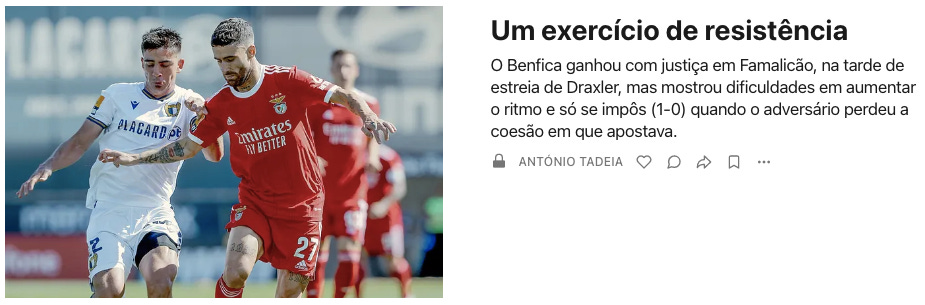O futebol na era Rumble Fish
Há uma cena do filme de Coppola que é uma lição para o futebol português. Os protagonistas são os adeptos, a Liga, os clubes e o Governo e tudo acaba com um miúdo obrigado a despir a camisola.

O Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia, e o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, já vieram condenar o caso da criança despida em Famalicão. Pudera! Há-de ser precisa muita vacuidade cerebral para defender aquilo que aconteceu e que, é verdade, acontece por todos os estádios, fruto tanto do clima de intolerância que os promotores do futebol em Portugal deixaram crescer entre adeptos, substituindo os artistas pelos criadores de narrativas diabolizadoras de tudo o que é diferente nas aparições públicas, como de uma legislação que institucionalizou os estádios como campos de batalha, criando até uma terra de ninguém entre trincheiras. O futebol português está na era “Rumble Fish”, os peixes de combate que fascinavam Mickey Rourke, o Motorcycle Boy do notável filme de Francis Ford Coppola.
O caso é fácil de explicar. Os agentes de segurança de serviço do FC Famalicão-Benfica tinham ordens para não deixar entrar para uma determinada bancada, aparentemente reservada a sócios do clube da casa, gente com adereços alusivos ao clube visitante. Quem quisesse usar uma camisola, um cachecol, uma bandeira, fosse o que fosse, do Benfica, teria de ir para a zona reservada para os adeptos visitantes – cá está, o vidro que separa os peixes de combate no aquário. Ora se isto já é, para mim, difícil de justificar tratando-se de adultos, quando se fala de uma criança de dez anos, vestida com uma camisola do Benfica, a acompanhar um pai que é sócio do FC Famalicão – e que se calhar até é benfiquista, não importa... – torna-se o ponto de não retorno que indica que chegámos à selvajaria total. E, como é óbvio, leva a uma reação das entidades responsáveis. O pior é que estas entidades não estão preocupadas com o sarilho que ajudaram a criar. Estão preocupadas, isso sim, com um caso de má publicidade, porque um miúdo de dez anos é fofinho e fica mal na fotografia estar a obrigá-lo a despir-se para ir à bola. É um pesadelo de relações públicas.
O Benfica queixou-se. Da parte do FC Famalicão não houve ainda uma reação oficial ao caso. Mas é preciso ter em conta uma coisa. Este não é um problema do FC Famalicão. Este é um problema do futebol em geral. Em todos os estádios acontecem anormalidades destas. Até o Benfica já criou condições para que elas sucedessem na Luz. O que não costuma haver é miúdos de dez anos a fazer striptease para verem a bola e pais a queixarem-se disso, como este pai se queixou. Agora, a banalização da “grunhice” não significa que ela não deva ser combatida, tal como a sua condenação não implica que não devamos tentar compreender o que nos trouxe a este futebol em que os adeptos têm de ser separados por vidros para “não se matarem uns aos outros”, como acontecia com os peixes que Mickey Rourke observava com um olhar esgazeado na loja de animais no filme de Coppola, maravilhado com tanta violência latente. Nem de propósito, num filme a preto e branco, os peixes têm cores garridas para se diferenciarem.
“Não é este o futebol que queremos”, disse Pedro Proença, fazendo saber que já mandou chamar à Liga os chefes de segurança de todos os clubes, certamente com o intuito de lhes explicar que não podem repetir casos destes. Mas ainda não se viu da parte da Liga – ou dos clubes, que, repito, a Liga é apenas uma extensão dos clubes – nenhuma tentativa de acabar com a comunicação baseada no ódio ao diferente em que o futebol português se baseia, substituindo-a por uma maior abertura no acesso aos verdadeiros protagonistas, que são os jogadores e os treinadores. Tudo porque alguém em tempos achou que essa era a melhor forma de aumentar a militância, de arregimentar tropas, de condicionar árbitros e órgãos de disciplina e disso tirar vantagens. Eu já cortei com as recorrentes tentativas de manipulação vindas de newsletters oficiais ou de “diretores de propaganda”, perco zero minutos com os canais dos clubes, com intervenções de comentadores engajados e sujeitos a essa disciplina clubística, mas basta-me dar uma vista de olhos às caixas de comentários dos posts que faço nas redes sociais para divulgar os textos para ver como a agressividade, o insulto e a ameaça estão já enraizados em adeptos de todos os clubes.
A questão, aqui, é o que fazer perante esta realidade. Até aqui, em vez de tentar entender o problema, em vez de tentar empoderar o organizador – a Liga – para impor condições à comunicação dos clubes, por exemplo através da gestão da receita e da sua limitação aos prevaricadores, o Governo optou sempre por uma via restritiva, que gerou esse aborto social e jurídico que era o cartão do adepto. Uma via que, aliás, ainda favorece a existência das ZCEAP, as Zonas com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos, que levam a que nos vejamos com frequência perante essa situação estranha que é haver jogos com zero bilhetes à venda e vastíssimas zonas, às vezes bancadas inteiras, completamente vazias, por corresponderem a áreas que ninguém quer ocupar.
“Esta criança foi vítima de intolerância implacável num estádio de futebol”, proclamou João Paulo Correia, o mais recente Secretário de Estado do Desporto, exigindo explicações vindas das “entidades envolvidas”. Acontece que quem, como diz o governante, e eu concordo, fez a criança passar pela “indignidade de ficar semi-despida para que pudesse assistir ao jogo”, não fez mais do que levar à letra as indicações emanadas pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que se lembrou de defender a guetização e a imposição das tais zonas especiais para onde se pudessem levar bandeiras ou tarjas. Ora, aos olhos dos clubes, que é onde o ódio ao diferente está mais enraizado, uma bandeira, uma tarja, uma camisola... Qual é a diferença? É só de dimensão, de centímetros quadrados? Um chefe de claque, um adepto entusiástico, uma criança de dez anos... Qual é a diferença? É só de idade e de cadastro?
No filme de Coppola, a dada altura, Mickey Rourke, o Motorcycle Boy, diz a Rusty James, que é interpretado por Matt Dillon, uma coisa que devia fazer-nos pensar a todos. Aliás, toda a cena é uma lição, desde o tom de voz sempre calmo do motoqueiro à irritabilidade impotente do dono da loja e ao preconceito autoritário do agente Patterson, o polícia. “Eles não lutariam se estivessem no rio”, vaticina o motoqueiro. “Alguém tem de vos tirar das ruas”, responde o polícia. “Alguém tem é de pôr os peixes no rio”, finaliza, a sorrir, o rapaz. O futebol português está na era Rumble Fish. Rourke representa os adeptos de futebol, no sentido em que toda a gente desconfia das malfeitorias que pode fazer – e às vezes faz. O dono da loja é a Liga, em todo o esplendor da impotência, que se limita a separar os peixes com vidros. E o polícia é o governo que optou pela via autoritária em vez de tentar entender o que vai na alma e na cabeça da juventude irrequieta. Ou dos verdadeiros adeptos de futebol.